María Wiesse: uma pioneira da crítica cinematográfica no Peru
- Mónica Delgado

- 21 de jan.
- 8 min de leitura

Por Mónica Delgado Chumpitazi | Metacriticas
Entre 1926 e 1930, a escritora peruana María Wiesse manteve diversas colunas de crítica cultural na revista de vanguarda Amauta, fundada e dirigida por José Carlos Mariátegui. Uma dessas colunas, entre aquelas dedicadas a comentar publicações editoriais e lançamentos musicais recentes, chamava-se CINEMA: Notas sobre alguns filmes, a partir da qual a autora discutiu filmes lançados tanto em Lima, como no exterior. Por um lado, esta coluna estável posicionou Wiesse como uma mulher esclarecida e interessada em expor vários aspectos das obras cinematográficas de forma crítica e organizada e, por outro, permitiu-nos identificar um tipo de análise crítica do cinema a partir de um ponto de vista pessoal em relação aos contextos de tensão entre tradição e modernidade, assim como ao papel das mulheres nas suas famílias e na sociedade.
María Wiesse (1894-1964) fez parte de um grupo de escritoras que estabeleceram uma nova relação entre a sensibilidade feminina e o jornalismo no Peru. Antes de fundar uma das primeiras revistas dirigidas por uma mulher e destinada ao público feminino, Família (1919), esta autora já havia escrito algumas crônicas e resenhas em periódicos literários ou culturais, em jornais como A Crônica (1916), Peru (1916-1917) e O dia (1917), e em revistas como Revista de Notícias, em 1917, ou Mundo, em 1918, assinando sob o pseudônimo de Myriam. Estes textos em revistas de variedades visavam contribuir para o papel das mulheres como educadoras em artes e cultura no seio familiar, em defesa de uma posição que procurava preservar o lugar tradicional das mulheres como mães de família e formadoras de novos cidadãos contra a feminismos mais perturbadores que surgiam como uma ameaça. Esta visão também foi levantada em Família, revista que dirigiu e que, em seus apenas seis números, defendia uma diferença em relação ao que Wiesse chamou de “verdadeiro feminismo”, perspectiva que confrontava o movimento sufragista, por exemplo, e que exaltava o papel da mulher a partir do seu papel doméstico:
O verdadeiro e único feminismo que deve ser pregado é aquele que não retira às mulheres a sua auréola; Não é a conquista dos direitos do homem falar em quadradinhos - como fez ultimamente um grupo de mulheres infelizes e inconscientes - e fazer barulho, expondo-se a um tamanho ridículo (Família, 1919, nº 5, p. 9).
Anos mais tarde, alguns textos críticos sobre o cinema não ficaram isentos desta perspectiva, onde os filmes que eram lançados nos cinemas também deveriam cumprir um papel educativo, formativo ou de contribuição para cultivar a sensibilidade estética de mulheres e crianças.
Para Wiesse, que na segunda década do século XX já atuava como cronista, narradora, poetisa, dramaturga e ensaísta, a crítica de cinema era também uma forma de contribuir para a formação das mulheres no bem-estar de uma sociedade menos decadente e orientada a bens materiais. Em um de seus primeiros artigos na revista Amauta, intitulado Sinais do nosso tempo (publicado no número 4 de 1926), Wiesse sustenta que:
O ritmo acelerado e talvez um pouco desarmonioso, da vida moderna coincide perfeitamente com o ritmo intenso e nervoso do cinema. Esta é a era da imagem que triunfa sobre a palavra. Mais do que um diálogo, somos comovidos e seduzidos por uma atitude, uma expressão, um gesto ou um olhar. Emoções fortes e, ao mesmo tempo, fugazes são almejadas. Esta predileção do público atual por filmes policiais e de aventura não é um sintoma de frivolidade ou decadência. A decadência atual está, antes, no amor excessivo ao dinheiro e nos sacrifícios que são feitos para obtê-lo.
Esta frase, que inaugurou uma forma de perceber o cinema numa época em que esta expressão tinha apenas vinte anos, depois de ter sido apresentada pelos irmãos Lumière numa feira, suscitou uma reflexão sobre a relação entre a dinâmica da vida moderna e o impacto do cinema como meio dominante. Para Wiesse, esta transição cultural não deve ser interpretada como um sinal de superficialidade, mas como uma adaptação às exigências emocionais e temporais de uma sociedade em constante mudança, e introduziu uma crítica à decadência contemporânea, ao culto excessivo ao dinheiro, que distorce os valores e prioriza o material em detrimento do humano. Neste sentido, o cinema tornou-se não apenas um meio de fuga ou lazer, mas também um espelho das aspirações e contradições da modernidade.
Amauta, uma revista avançada, publicou trinta e dois números entre setembro de 1926 e setembro de 1930, e foi somente nas edições de 1928 que Wiesse obteve uma coluna, CINEMA: Notas sobre alguns filmes, espaço que permaneceu até o fechamento da revista, em 1930. Naqueles anos, a opinião sobre filmes era um fenômeno comum em diversos jornais e revistas da capital. Embora existissem várias colunas estáveis, todas eram lideradas por escritores do sexo masculino, embora o público leitor fosse predominantemente feminino: alguns exemplos como crônicas de cinema, no jornal El Mundo, Cinematográficas, no jornal La Crónica, ou os textos de Felipe Sassone em Callao e O Comércio, ou os textos de Juan Piqueras, César Miró, Aurelio Miró Quesada ou Franklin Urteaga Cazorla também em O Comércio (Bedoya, 2009).
Neste contexto, identificam-se duas abordagens predominantes entre os cronistas na interpretação do cinema, cada uma delas orientada para um tipo diferente de espectador. Por um lado, o cinema foi concebido como uma forma de entretenimento que substituiu o teatro. Os textos enfatizavam a vida privada das estrelas de Hollywood e faziam uma análise baseada nos princípios da dramaturgia clássica do século XIX. E, por outro, o cinema era considerado uma arte, uma manifestação privilegiada da modernidade, com uma linguagem própria que o tornava adequado a públicos seleccionados, um público culto para a ópera ou para a pintura. Esta perspectiva manteve elementos idealizados do Modernismo, enfrentando constantemente as rupturas propostas pela modernidade do novo século. A partir desta visão, o cinema deveria cumprir uma função educativa, transformando e refinando as massas. María Wiesse estava neste último grupo.
Como resultado dessa tensão, a presença do cinema surge também como tema de análise na revista Amauta. Fundada e dirigida por José Carlos Mariátegui, esta revista foium marco na vida cultural e política do Peru ao se tornar um espaço de reflexão e debate que articulava as correntes marxistas, indígenas e vanguardistas da época com as realidades sociais do país. Promoveu o diálogo entre tradição e modernidade, gerando um espaço de confluência entre expressões culturais locais e influências internacionais, especialmente aquelas relacionadas ao pensamento socialista europeu. Esta publicação foi também um espaço de convergência para escritores, artistas e intelectuais de toda a América Latina, promovendo uma visão continental dos problemas e desafios da região. Nesse sentido, Amauta não foi apenas uma revista, mas uma plataforma para imaginar e propor alternativas radicais à ordem estabelecida, deixando um legado na história do pensamento crítico e político na América Latina.
Ao lado de Wiesse, outras escritoras contribuíram para a emancipação feminina com seus artigos, como Dora Mayer, Camen Saco, Blanca del Prado, Ángela Ramos, Magda Portal, Alicia del Prado e Blanca Luz Brun (Guardia, 1995). Neste quadro, a escrita de Wiesse também suscitou uma tensão baseada na relação entre novos espectadores e novas sensibilidades que aspiravam a uma vida moderna e sobre o dever do cinema e das mulheres na sociedade.
Os textos de Wiesse em Amauta propõem dois pontos de abordagem: o primeiro, do ponto de vista político, uma vez que Wiesse propôs um “devir” do cinema num contexto de resistência à valorização desta expressão como entretenimento; e o segundo, do ponto de vista formal, a partir das categorias de análise utilizadas por ela para avaliar os filmes vistos naqueles anos, propondo não apenas uma concepção de cinema, mas uma “política de atores”.
Entre 1928 e 1929, Wiesse publicou sete colunas, nas quais analisou vinte e sete filmes, a maioria estreada em Lima e outros vistos durante suas viagens. Através destes textos, explorou uma nova dimensão da relação entre espectadores e filmes. Assim como construiu um ideal de cinema como forma de alcançar algumas habilidades estéticas, também propôs um ideal de espectador, especialmente encarnado numa figura feminina que via no cinema uma possibilidade de elevação espiritual. Por exemplo, Wiesse declarou:
Há muito a dizer sobre cinema. Em torno das imagens animadas – que conquistaram o mundo – surgem vários problemas nos quais é mais interessante focar. Problemas que não estão relacionados, aliás, com os olhos de Gloria Swanson, nem com os músculos de John Barrymore, nem com os amantes de Rudolph Valentino, nem com as acrobacias de Douglas Fairbanks. Os fãs de cinema – entre os quais me incluo orgulhosamente – não se importam com as fofocas de Hollywood; O que nos interessa é o aspecto artístico do cinema (Amauta, 1927).
Ao enfatizar este interesse, Wiesse sublinha a importância de analisar o meio de comunicação a partir de uma perspectiva estética e cultural, em vez de se concentrar apenas na sua natureza comercial ou na sua capacidade de alimentar o fascínio popular pelas celebridades. Denota uma visão que reconhece o cinema como uma arte autônoma, capaz de influenciar profundamente as emoções e o pensamento coletivo (Delgado, 2020).
Wiesse escreveu nesta coluna sobre trabalhos como Napoleão (1927) de Abel Gance, Metrópole (1927) de Fritz Lang, Ramona (1928), filme estrelado por Dolores Del Río, Vaudeville (1925), o clássico do expressionismo alemão dirigido por Ewald André Dupont, Don Juan (1926), Twilight Shadows (1927) ou Manon Lescaut (1926). Nestas obras aplicou uma análise pouco descritiva e antes baseada no destaque de alguns temas específicos, desde a avaliação dos cenários, a plausibilidade das adaptações literárias ou das performances.
A maior parte dos seus textos analisava a encenação, então entendida como parte do património das artes performativas, onde a arquitetura ou os cenários ocupavam um lugar de elevada hierarquia em relação a outros elementos. Uma boa cenografia denotava cuidado e referência ao cinema como arte. Além disso, Wiesse demonstrou interesse pelo pictórico, não pela autonomia do cinema em construir sentido a partir do movimento, mas pela valorização da fotogenicidade, da composição, do uso da iluminação, das texturas e do tratamento da luz. Por exemplo, na 25ª edição do Amauta, de 1929, Wiesse escreveu sobre um filme do alemão Paul Leni: “Seu Teatro Sinistro nas Mãos de Outro não teria sido nada mais do que um seriado policial. […] forja, com luz e sombra, uma sucessão de magníficas ilustrações”. Desta forma, manteve alguns critérios de análise herdados de julgamentos relativos ao teatro, à fotografia ou à pintura, onde o pictórico ou fotogênico era valorizado positivamente.
Então, a partir desta breve revisão, pode-se concluir que María Wiesse se destacou como uma das primeiras vozes femininas a abordar o cinema a partir de uma perspectiva analítica no Peru. O seu trabalho, desenvolvido entre 1926 e 1930, centrou-se na análise do cinema como forma de arte em constante evolução, transcendendo a mera descrição do cinema como objeto de entretenimento para refletir sobre o seu impacto cultural, estético e social. Através das suas colunas, Wiesse explorou a relação entre o público e as imagens, alegando a necessidade de educar o espectador - especialmente mulheres e crianças - e encorajar uma apreciação crítica do meio. Sua contribuição foi particularmente significativa num momento em que o cinema começava a se consolidar como linguagem universal, pois seus textos ofereciam um olhar que combinava rigor analítico com sensibilidade artística, posicionando-a como pioneira no campo da crítica cinematográfica no Peru.
Referências
Bedoya, R. (2009). Cinema mudo no Peru. Fundo editorial da Universidade de Lima.
Delgado, M. (2020). María Wiesse em Amauta: as origens da crítica cinematográfica no Peru. Editorial de óculos roxos.
Guarda, SB (1995). Mulheres peruanas: o outro lado da história. O autor.
Wiesse, M. (1919) Editorial. O verdadeiro feminismo. Família, n°5, pág. 9
Wiesse, M. (1926) «Sinais do nosso tempo», n.º 4. Artigo sobre moda, relações amorosas, cinema e infância à luz dos sinais da modernidade.
Wiesse, M. (1929) CINEMA: notas sobre alguns filmes, no 23. Resenhas críticas dos filmes Chang, Napoleão, Casanova, A Conquista da Selva.
_________________
Imagem: Fotografia de María Wiess


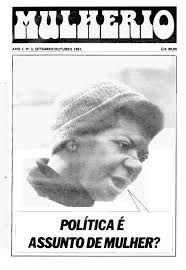

Kommentit