Essa força estranha: notas sobre curadoria de perspectivas feministas
- Carla Italiano

- há 3 dias
- 10 min de leitura

Por Carla Italiano | Metacrítica
Nestas páginas, busco responder brevemente à provocação de Sara y Rosa, com o convite para me debruçar criticamente sobre alguns dos processos de curadoria em que estive envolvida nos últimos anos. Trata-se de uma convocação especial, tendo em vista que em 2025 completam duas décadas desde que comecei os estudos em cinema, com quinze anos que venho me dedicando especificamente à curadoria como principal frente de atuação estética e política. Em processos criativos compartilhados, minhas práticas de pesquisa e programação abordam as implicações da simultaneidade entre dinâmicas de gênero, raciais e de sexualidade, com particular atenção para perspectivas lésbicas e afrodiaspóricas, privilegiando formas não narrativas (documentais, experimentais e ensaísticas) de criação. Com isso, algumas reflexões podem ser depreendidas acerca da figuração das mulheres nesses cinemas – à frente e atrás das câmeras –, e o que tais presenças nos devolvem através de novas indagações.
Antes de entrar em casos específicos, vale nos debruçarmos um pouco sobre os conceitos que constam no título deste texto, nessas duas palavras quase etéreas de tão misteriosas: curadoria e feministas. Dois terrenos continuamente em disputa que suscitam, a um só tempo, certo grau de fascínio e de intimidação. De partida, é preciso reconhecer que “feminista” está longe de ser uma ideia generalizante ou unívoca, podendo inclusive ser evocada a fim de reforçar as hierarquias e desigualdades que sustentam o status quo, em vez de combatê-las. Talvez de maneira semelhante a como a categoria “mulher” é também um significante instável, arriscadamente situado entre uma abstração estratégica e a concretude da vida de mulheres que almejam mudanças efetivas. Busco sempre empregar a palavra feminismos no plural, justamente por reconhecer a armadilha que é acreditar em um único movimento de ativismos ou teorizações que fosse capaz de unificar a complexidade das diferenças históricas, políticas e subjetivas defendidas por cada uma das vertentes assim nomeadas. Ao continuar recorrendo a essa ideia, minha defesa é pelo seu potencial revolucionário de transformação das estruturas que organizam a vida social; ou, ao menos, de ações que mantêm esse horizonte (o que já é muito).
Já a ideia de curadoria é entendida tanto como uma prática crítica, quanto como um campo de investigação teórico-conceitual. Um termo herdado das artes visuais e sua vasta tradição museográfica, cuja aplicação no cinema parece hoje quase onipresente. Conceber uma curadoria que se oriente por princípios feministas é costurar lampejos de subjetividades e tempos, construindo, nesse entrelaçar, uma espécie de montagem histórica. Assim, como escrevi em outro lugar: “é no intervalo entre um trabalho e outro (ou uma sessão e outra), no abismo das diferenças que os separam e, simultaneamente, os unem, que reside a força de iluminação crítica dessa singular coletividade” (Italiano, 2024, p. 41). Nessa empreitada, digamos, “autoral”, de fazer curatorial, é igualmente preciso reconhecer “o quão duvidoso é esse terreno de ser curador/a, historicamente mais marcado por violências do que propriamente por desejos de “cura” (Ibidem).
Essa ética de trabalho busca ir além de preocupações estritamente temáticas ou de hermetismos formais, deslizando por esses aspectos ao posicionar debates importantes como sua ação central. A caracterização de cinema que enraíza essa visão aponta menos para um tipo de estilo fílmico, ou uma suposta qualidade imanente, e mais de determinado compromisso perante o vivido e a história das imagens. Compartilho do pressuposto dos próprios filmes como formas que pensam, sendo aquelas obras estranhas, que explicitam suas apostas radicais, as que mais atraem. São trabalhos avessos às fórmulas dominantes que pasteurizam o cinema contemporâneo em uma espécie de monocultura de linguagem (seja industrial ou independente). São práticas que assumem uma postura inventiva e combativa diante de injustiças sistêmicas.
Assim, elenco abaixo três linhas de fuga que animam esses processos curatoriais de compromisso feminista. A intenção não é prescrever tais práticas, e sim delinear horizontes que podem se desdobrar em novas frentes de inspiração.
1. Um ponto de partida: a busca por reescrever a História / inscrever novas Histórias (das imagens e para além delas)
É preciso partir do reconhecimento de que absolutamente toda decisão curatorial é política (pode parecer uma obviamente, mas é um fato curiosamente fácil de ser esquecido). São escolhas deliberadas, com consequências claras, saber quais pessoas e filmes deixar de fora ou incluir, quais tradições subscrever e com as quais romper, de que modo reposicionar determinados sujeitos e formas artísticas onde, historicamente, se tornaram invisíveis. No horizonte, reside a defesa de maneiras de historiografar que escapem às normatividades dominantes que almejam controlar o sensível da vida social.
Um caso que ilumina essas questões é a mostra Mulheres Mágicas: Reinvenções da Bruxa no Cinema. Realizada em duas edições nos Centros Culturais Banco do Brasil de quatro cidades, a mostra põe em curso a reinterpretação da presença das mulheres na história do cinema – tanto em cena quanto atrás das câmeras –, ao eleger essa figura específica como seu núcleo irradiador. Presente desde os primórdios do cinema, a bruxa navegou por um amplo espectro ideológico ao longo das décadas, nunca deixando de habitar o imaginário popular e, tampouco, as telas do cinema. Se, em algumas produções, a representação reforçou estereótipos de fundo misógino, em outras, ela tornou-se símbolo de liberdade feminina, com a afirmação de maior autonomia sobre seus desejos. É nesse ínterim que residem a potência desse tipo de curadoria enquanto um gesto de intervenção de pretensão emancipatória.
Em ambas as edições, inicialmente no formato híbrido (em 2022), com curadoria minha, e depois presencialmente (em 2024), em curadoria partilhada com Juliana Gusman e Tatiana Mitre, a seleção dos filmes se estruturou a partir de dois eixos inseparáveis: de um lado, “O cinema e a bruxa: iconografia clássica”; do outro, “Bruxas contemporâneas: corpos indomáveis, saberes ancestrais”. No primeiro, a curadoria revisitou os principais elementos que consolidaram essa espécie de arquétipo na tradição ocidental. O percurso abrange da moralidade dos contos de fadas à caça às bruxas na transição para a modernidade, passando pelas criaturas monstruosas do cinema de horror. Junta-se a isso o desejo de acolher uma amplitude de linguagens e formatos de criação, entre ficção, documentário e performance, longa e curtas-metragens de cineastas consagrados e artistas emergentes, revelando uma variedade de posicionalidades e filiações a compromissos feministas.
Já o segundo eixo da programação ampliou esse imaginário ao adotar a expressão “mulheres mágicas”, inspirada nos escritos da teórica ítalo-americana Silvia Federici e seu livro fundamental Calibã e a Bruxa (quem, aliás, conduziu uma masterclass online na primeira edição do evento). Aqui, buscamos deslocar o foco da iconografia clássica de origem europeia para destacar personagens que rompem com as normas vigentes e transitam por múltiplas temporalidades, habitando os limites das rígidas estruturas sociais e políticas estabelecidas. Sob olhares decoloniais e transfeministas, as mulheres mágicas são entendidas como detentoras de práticas e saberes comunitários. São parteiras, curandeiras, feiticeiras e trabalhadoras da terra, mulheres que resistem à domesticação, que evocam memórias e linhagens ameríndias e afrodiaspóricas, e que, sobretudo, acreditam na possibilidade de reencantar o mundo ao nosso redor.
É justamente dessa multiplicidade de sentidos e apropriações que nasce a complexidade da bruxa como uma espécie de zeitgeist cinematográfico, o que nos libertou para empreender um duplo movimento curatorial. Por um lado, escrever outras Histórias das mulheres (com suas diferenças constitutivas) nas imagens em movimento, ao elaborar novos passados emancipatórios. Por outro, intervir no aqui e agora de nossa atualidade (terceiro-mundista), na aposta em um porvir mais complexo e, quem sabe, igualitário.
2. Um método de rigoroso descontrole
Ecoando a mostra acima, algumas perguntas emergem. O que acontece quando esses filmes e mulheres, com seus modos de estar no mundo distintos, quiçá opostos, são colocados lado a lado? De que maneira estabelecer diretrizes para a prática curatorial de modo a respeitar as singularidades de cada trabalho, ao mesmo tempo em que colocá-los em diálogo? E como lidar com o que resulta dessas colisões, sem cair num tipo apaziguado de pretensa “diversidade” de substrato neoliberal? Sem respostas absolutas, lançamo-nos aos experimentos.
Nesse sentido, um segundo exemplo está na mostra Clássicas: Insubmissas Mulheres de Cinema. Programada a convite do Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, entre março e abril de 2025, a mostra reuniu 34 filmes protagonizados e dirigidos por mulheres que questionaram as convenções de suas épocas. Alinhavando essas obras estava certo caráter de insubmissão, presente nas experiências de diferentes personagens e diretoras, seja pela reinvenção de formas fílmicas consolidadas, seja pela desobediência aos papeis de gênero e às rígidas regras sociais, fazendo emergir suas lutas por libertação. A programação se dividiu em quatro grupos temáticos, em propostas contra-hegemônicas de escrita historiográfica: "Vidas luminosas" reuniu documentários voltados para a trajetória de artistas inspiradoras; "Laços Inquietos" se voltou para um sentido de pertencimento, trazendo à tona a ambiguidade de laços sociais que podem tanto unir quanto dividir; "Dos excessos da carne" apresentou personagens movidos por desejos que transbordam, em narrativas que perturbam as fórmulas de gêneros reconhecíveis; e "Canções de rebeldia" revelou diferentes estratégias de mulheres que buscaram romper com os tabus que limitam suas existências.
Vale sublinhar, no entanto, como a noção de “clássico” é particularmente capciosa. Como já se indagava Linda Nochlin em 1971, em artigo fundante no campo da história da arte, a constatação se coloca na forma de uma pergunta: “Por que não existem grandes artistas mulheres?” (Why Have There Been No Great Women Artists?). O que está em jogo são os critérios de valoração pretensamente objetivos do que é considerado arte (ou melhor, genialidade artística) a pautar o que é digno de memória do ponto de vista dos vencedores. Uma História que se estrutura em uma série de falsas dualidades - entre natureza e cultura, razão e emoção -, que sistematicamente apartou mulheres e outros sujeitos marginalizados dos espaços de tomada de decisão e poder.
No cinema, a ideia de clássico foi majoritariamente empregada a fim de reforçar disparidades e apagamentos, preservando para a posteridade cânones seletos. É desnecessário dizer que se trata de um território contestado. Frequentemente, são os mesmos modos de criação (ficcionais e feitos sob moldes industriais), das mesmas perspectivas privilegiadas (ocidentais, masculinas, cis-heterocentradas, brancas e de classe alta do Norte Global), que são alçados a essa categoria. É preciso, então, desnaturalizar o que foi dado como neutro e imutável; estabelecer caminhos tortuosos, desviantes e dissonantes a fim de estabelecer outras bases de filiação ao cinema, de elaboração crítica intelectual, dos processos curatoriais.
Nessas práticas de curadoria feministas, tal qual um dispositivo de pensamento ensaístico, regras claras devem ser estipuladas a fim de minar tais lógicas excludentes. As conexões entre filmes podem emergir de múltiplas maneiras – por afinidades temáticas, de estratégias de abordagem, por ecos rítmicos, texturas visuais, ou de frequências vibracionais. E é fundamental um outro tipo de encontro, não apenas entre os filmes exibidos, ou desses com o público: os debates críticos (escritos e verbais), seja nos comentários, seja nos textos publicados, todos componentes inseparáveis de um mesmo desenho de fabulação coletiva no mundo. Metodologias que devem se reinventar a cada novo projeto de modo a estabelecer seus parâmetros singulares, suas interdições e obrigações específicas. A intenção é construir pontes entre perspectivas históricas e contemporâneas, criando atritos entre as convenções e a busca ativa por novas formas de experimentação.
A fricção é uma ideia central aqui. Não apenas criar vizinhança entre nomes e sensibilidades que seriam, a princípio, contraditórias, mas explorar o que esses choques têm de mais revelador. Uma inspiração está na ideia de “epistemologia do velcro”, proposta por Alessandra Brandão e Ramayana Lira de Sousa como um modo de ver o cinema. Como elas descrevem, a partir da constatação da “in/visibilidade lésbica no cinema” (2019), o velcro seria “uma forma ao mesmo tempo tática e estratégica de se mover pelos espaços institucionais, contrabandeando imagens e histórias, autora/es em contato e atrito, fricções e ficções. Um movimento que desorganiza os corpos”¹.[1]
Algo semelhante se concretiza nesta mostra Clássicas: Insubmissas Mulheres de Cinema, cuja programação reuniu desde o cult de horror hollywoodiano Garota Infernal (2009, Karyn Kusama) à experimentação das estadunidenses Julie Dash e Barbara Hammer, passando pelo ensaio biográfico de Helena Solberg sobre Carmen Miranda (1995) ou pelo documentário militante sobre aborto do coletivo mexicano Cine Mujer, nos anos 1970. Um rigoroso descontrole com finalidades claras. Derivado desse movimento de fricção está uma intenção deliberada de sabotagem. Um ato que carrega, em si, a intenção proposital de danificar instituições e propriedades vigentes, impedir o funcionamento de dispositivos, perturbar a ordem das coisas. É verdade que a aposta é alta, assim como o risco de errar. Mas é por meio dessas estranhas rupturas que se constrói um novo campo de questionamento e de atuação.
3. O que esse terreno de especulações nos ensina sobre construção de coletividade?
Por fim, na conclusão da tese de doutorado, intitulada Sou sujeito / estou sujeita: formas de autoinscrição no cinema experimental de mulheres (EUA, 1990-1993), propus um movimento hipotético de curadoria, atando e desatando obras, diretoras e teorias que atravessaram o percurso da pesquisa. Era “um exercício de unir e desunir filmes e sensibilidades, criar intimidade e estabelecer distâncias, tal qual uma dança que só se aprende dançando” (Italiano, 2024, p. 244). Um exercício de curadoria em quatro programas, centrados nas obras das cineastas investigadas (que estavam presentes em todos), mas que não almejava ser realizado na prática. Dessa forma, o caráter de especulação vem à tona, permitindo que uma dimensão mais abstrata de pensamento caminhe mais livremente – algo que condiz tanto com as reflexões feministas quanto com os fazeres curatoriais. Igualmente subjaz a esses processos desobedientes um potencial de reinvenção que começa com a transformação do nosso próprio olhar, na abertura para o que essas práticas devolvem em termos de novas perguntas sem resposta.
Salta aos olhos uma espécie de aliança improvável e temporária entre diferentes propostas cinematográficas, correntes teóricas e comunidades que, à primeira vista, pareceriam incompatíveis. Algo semelhante ao conceito provocador da pensadora e ativista boliviana María Galindo, na defesa de “alianças insólitas”: vínculos entre mulheres que, segundo as normas impostas, não deveriam se reconhecer mutuamente. Tais alianças improváveis representam uma resposta rebelde à lógica patriarcal que separa e fragmenta as mulheres em compartimentos isolados (Galindo, 2013, p. 76).
Assim, talvez a perspectiva especulativa feminista seja onde é possível imaginar essas sujeitas lado a lado enquanto construção de coletividade – não uma, e sim múltiplas. Algo somente possível, ao menos por ora, no território estranho, insólito e provisório da curadoria.
¹Trabalho apresentado pelas autoras na Socine de 2024, de título “Des/col(oniz)ando o velcro: modo de ver o cinema”.
Referências
BRANDÃO, Alessandra; SOUSA, Ramayana Lira. A in/visibilidade lésbica no cinema. In: HOLANDA, Karla (org.). Mulheres de Cinema. Rio de Janeiro: Numa Editora, 2019.
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpos e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.
GALINDO, Maria. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar - Teoria e propuesta da despatriarcalización. Mujeres Creando, 2013.
ITALIANO, Carla. Sou sujeito/estou sujeita: formas de autoinscrição no cinema experimental de mulheres (EUA, 1990-1993). 266 p. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – PPGCOM – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.
NOCHLIN, Linda. Why Have There Been No Great Women Artists?. In: Women, Power, and Art. New York: Harper and Row, 1971.

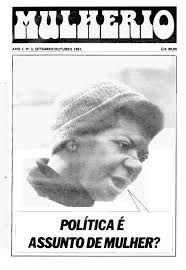


Comments